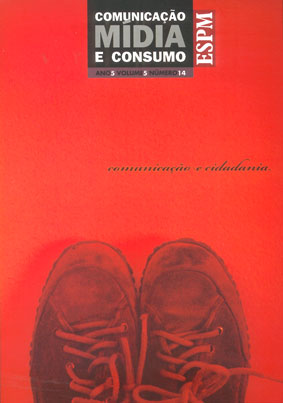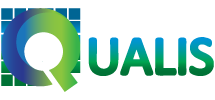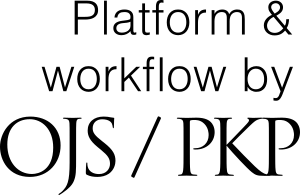As muitas faces da Economia Política da Comunicação no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.18568/cmc.v5i14.143Resumo
A Economia Política da Comunicação (EPC) é ainda uma jovem debutante entre as disciplinas que integram as ciências da comunicação, assim tratadas nos vários eventos científicos que procuram enquadrar os fenômenos dessa área para tratá-los com os métodos da pesquisa acadêmica. Jovem que ganhou status de GT (Grupo de Trabalho) próprio na Compós, a Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação, essa linha conquista cada vez mais terreno, seja pela amplitude das pesquisas desenvolvidas seja pela prolífica produção dos autores associados. É o caso de Valério Cruz Brittos e Adilson Cabral , que acabam de lançar Economia política da comunicação: interfaces brasileiras. O livro é uma coletânea de artigos de vários pesquisadores relacionados com a área de estudo, mas que atuam em segmentos distintos, incluindo os dois organizadores, percorrendo trechos que vão desde a própria conceituação da Economia Política da Comunicação e as tensões exercidas dentro do campo científico, passando por abordagens sobre a indústria cultural, novas tecnologias e as plataformas digitais, além do conflituoso terreno das políticas de comunicação e as legislações específicas. São textos baseados nas principais mesas do Encontro da Ulepicc-Brasil, realizado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ), de 18 a 20 de outubro de 2006. No primeiro texto do livro, Suzy dos Santos mostra a que veio a EPC nos estudos da comunicação, lembrando que o serviço prestado pela linha é fruto de consenso: É imprescindível adotar um olhar crítico para retratar empiricamente os objetos das comunicações, sob a luz de um propósito também crítico, o da necessidade emergencial de participação ativa da pesquisa científica no processo de construção de um ambiente de comunicações efetivamente democrático (p. 15). Ao analisarem a indústria cultural e sua inserção no capitalismo contemporâneo, Valério Brittos e João Miguel apontam a tendência (lamentável) dos estados de deixar a cultura e o comunicativo entregues às lógicas dessa indústria, ficando, conseqüentemente, sujeitos às inversões do capital. Assim, o capitalismo deixa de ser apenas do domínio econômico para determinar a política e a cultura, ou seja, penetra em todas as dimensões das pessoas. Por esta via, é cada vez mais do que um modo de produção, para estabelecer-se como um processo civilizatório, onde a subsunção do simbólico é sucessiva, contínua e inconclusa (p. 41). Os autores discutem os resultados desse processo dentro do ambiente tecnológico, as estratégias adotadas pelas firmas do setor e o predomínio da publicidade no modo de funcionamento das mídias. No artigo seguinte, César Bolaño faz oportunas apropriações de Marx, Habermas e Foucault e os transporta à ambiência em que foi forjada a TV digital, usando conceitos canônicos da economia para uma crítica aos modelos atuais, não só comunicacionais, mas, principalmente, a resultante social de uma modernidade que sempre deixa excluídos pelo caminho, o rescaldo que, historicamente, o capitalismo não consegue resolver. Diz ele: A barbárie, na verdade, expande-se em todas as direções, na mesma proporção que o sistema já não mais inclui, mas, ao contrário, funciona crescentemente de acordo com uma lógica de exclusão pelos preços, de justiça de mercado, de lei da selva (p. 61-62). A afirmação de Bolaño vem a calhar, principalmente no momento pós-queda do Muro de Berlim, quando o fim dos governos socialistas do leste europeu foi interpretado como marco de uma nova hegemonia, calcada na ideologia do mercado e na pretensa solução dos conflitos, os tais rescaldos referidos anteriormente. Dentre os inúmeros filhos bastardos gerados nesse modelo imperfeito, o autor cita o exemplo da pirataria dos bens culturais, obviamente resultado das distorções no interior do sistema: “A pirataria é, assim, decorrência de um sistema em que o Estado institui o mercado impedindo a apropriação coletiva da riqueza” (p. 58). Sondando o terreno da EPC no Brasil, Adilson Cabral passa por vários aspectos polêmicos da nova configuração digital, da internet e do suposto poder atribuído ao usuário nas suas escolhas e decisões. Cabral revela as teias impregnadas por trás desses movimentos do usuário na rede, transformados em informação útil à operação dos agentes investidores. Tal acúmulo de informações implica em valor agregado para as empresas que vendem e/ou analisam tais informações, operando matéria-prima de usuários que simplesmente não têm conhecimento algum das transações realizadas e ficam à mercê dos negócios estabelecidos por empresas cujos portais são desenvolvidos em função dessas tecnologias (p. 83). Uma discussão presente na publicação é o papel desempenhado pelo Estado diante da fase da convergência. Em “Cultura tecnológica, mídia e consumo globalizado”, Denis de Moraes pensa sobre essa questão, em particular: Embora continue sendo uma esfera de poder, o Estado-Nação já não consegue regular os fluxos financeiros no mercado internacional, nem evidencia a capacidade de outrora para controlar e administrar um complexo conjunto de variáveis que envolvem a política, a economia e a cultura (p. 111). Moraes refere-se a uma certa cultura McWorld, decorrência da pulverização do consumo em todo o planeta, a partir de marcas mundiais e estendendo-se aos produtos culturais transformados também em mercadorias. Um sistema que, ao mesmo tempo, combina eficiência econômica e lucros à massificação de mensagens culturais pelo consumismo, no qualOs consumidores passam a ser percebidos como moléculas que inscrevem necessidades, valores e distinções sociais na escolha de bens. Metodologias de análise psicológica de segmentos com poder de demanda possibilitam ampliar o conhecimento sobre os agrupamentos e deduzir seus próximos desejos (p. 120). Nos demais textos, William Braga discute a colonização do discurso pelos imperativos categóricos do progresso; Eduardo Vizer fala das grandes transformações sociais e relações sociotécnicas na cultura tecnológica; Juliano de Carvalho aborda as políticas para comunicação e cidadania e as relações com o chamado livro verde brasileiro; Eula Dantas Cabral enfoca os desafios da grande mídia diante do local e comunitário; Gilson Schwartz sublinha a importância da pesquisa para a emancipação digital; Laurindo Lalo Filho aborda sociedade e televisão; Simone de Sá comparece com “Reconfigurações da midiasfera sob a luz das interfaces”; Márcio Gonçalves traça perspectivas analíticas para a abordagem da relação entre comunicação e cultura; Marialva Barbosa relaciona os estudos culturais e o materialismo dialético; Micael Herschmann aborda a relevância dos observatórios de comunicação, cultura e informação no contexto ibero-americano; Vera Lúcia Figueiredo comparece com “Sincronias e descompassos: América Latina e o relógio do mundo”. A publicação traz ainda um texto explicativo sobre a seção brasileira da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (Ulepicc), entidade atualmente presidida pelo professor Valério Brittos, na qual se filia a linha de pesquisa dos autores presentes no livro, cujos artigos, em sua maioria, atestam o mesmo amadurecimento de uma corrente cada vez mais vigorosa no estudo dos variados aspectos do mundo da comunicação.Downloads
Não há dados estatísticos.
Downloads
Publicado
2009-09-02
Como Citar
Santos, L. C. dos. (2009). As muitas faces da Economia Política da Comunicação no Brasil. Comunicação Mídia E Consumo, 5(14), 189–192. https://doi.org/10.18568/cmc.v5i14.143
Edição
Seção
Resenha